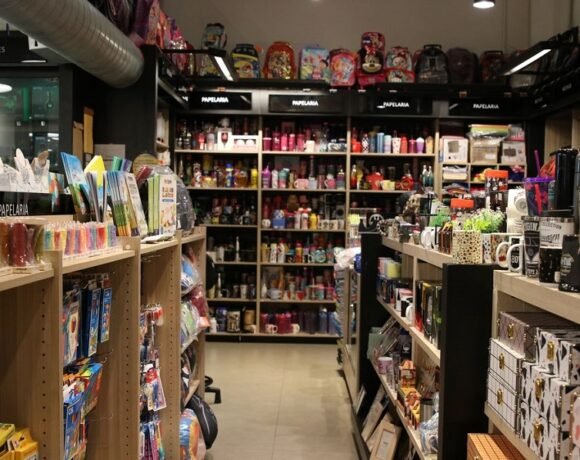Entenda o que é uma educação antirracista e como construí-la

Não basta apenas abordar história afro-brasileira na sala de aula. É preciso discutir racismo estrutural e, consequentemente, privilégios
Em um País ainda marcado pelo abismo racial e de renda, entender e desenvolver uma educação antirracista é fundamental para que justiça e sociedade caminhem juntas. A saber, sem tocar na questão carcerária e focando apenas na área educacional, enquanto 74% dos jovens brancos concluíram o ensino médio com até 19 anos, essa é a realidade para apenas 53,9% dos negros e 57,8% dos pardos, conforme revela levantamento divulgado ano passado pelo Todos Pela Educação. Já dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb/Inep) de 2017 tornam ainda mais nítida essa disparidade racial, uma vez que, na época, 59,5% dos estudantes brancos cursando o 5º ano tiveram uma aprendizagem em matemática tida como adequada e somente 29,9% dos negros se encaixaram no mesmo quadro.
Vale destacar que essa desigualdade racial é um desdobramento das diversas injustiças que negros (e indígenas) vivenciaram — e ainda vivenciam — desde a construção do Brasil. Falta de acesso à educação, saúde, saneamento básico e até mesmo um lar são questões estruturais. Apenas um exemplo é a Lei de Terras de 1850, que interrompe o direito à posse por meio do trabalho e determina que a terra só poderia ser adquirida mediante sua compra, acentuando ainda mais um distanciamento entre os latifundiários e os escravos que caminhavam por sua libertação, só que sem direito a nada.

Desnaturalizar o racismo
Ou seja, a educação antirracista vai muito além de aplicar a lei 11.645/2008, que inclui no currículo oficial da educação básica a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira e indígena. A lei é muito importante, mas é preciso reconhecer que o racismo estrutural existe, inclusive, no ambiente escolar. No caso da rede particular, vale a gestão refletir sobre a quantidade de negros nas turmas, criando debates entre famílias, comunidade e alunos. Afinal, a escravidão durou cerca de 300 anos, só que os brasileiros convivem oficialmente sem ela a apenas 132 anos. Historicamente é recente e os vestígios ainda são nítidos, conforme você confere a seguir.
“O epistemicídio, que é a exclusão do pensamento negro dos currículos escolares e da academia é um dos sintomas desse racismo que tem sido questionado nas últimas décadas, mas não apenas ele. Nosso País naturaliza um cotidiano em que ser negro está intrinsecamente ligado ao ser pobre e precarizado. O racismo está em como naturalizamos todos esses elementos, os tornando parte da paisagem e os justificando como se fossem falta de sorte ou de caráter de uma população que historicamente foi empurrada para esse lugar”, critica Suzane Jardim, historiadora e mestranda em Ciências Humanas e Sociais com pesquisa sobre a influência do sistema penal e punitivo nas lutas dos movimentos negros do século XX.
Indagada sobre o que é uma educação antirracista, Suzane define da seguinte forma: “é uma educação que entende que nosso País adotou sistematicamente o projeto de calar e omitir do grande público as discussões sobre relações raciais que foram cunhadas no campo das ciências humanas, políticas e no seio do movimento negro. É tentar instruir sujeitos sobre relações raciais, não para que individualizem a questão, mas para que consigam perceber o quanto o racismo faz parte de nossa estrutura social e tenham a capacidade crítica para se colocar contra esse sistema”.
Para a doutora em Educação Cléa Ferreira, cuja pesquisa está relacionada à uma formação docente étnico-racial, o brasileiro está começando a reconhecer que é racista. “O Brasil é o País do racismo sem racistas. Estamos desconstruindo essa ideia. Vivemos um momento importante de ruptura. Esse é um primeiro passo para uma educação antirracista”, destaca. Indo na mesma linha de Cléa, a historiadora Suzane completa que “o primeiro passo é o de treinar o olhar do educador para que ele se torne apto a perceber as hierarquias raciais de sua disciplina e meio. Dou ênfase de que o passo inicial é o de desnaturalizar o que o racismo naturalizou — sejam as lacunas da presença negra nas discussões, a visão embranquecida de sociedade ou a falta de negros nos ambientes”.

A culpa não é do professor
Em relação ao plano de aula, mesmo com a determinação da lei sobre história e cultura afro-brasileira e indígena, ainda é comum o professor abordar esses temas apenas quando o foco é a invasão do Brasil pelos portugueses e o período de escravidão — e ainda sob o olhar branco europeu. Diante dessa realidade surgem movimentos no Brasil e mundo que pedem a descolonização dos currículos. “Acho que a lei foi um avanço, mas ainda estamos longe de conseguir com que ela oriente as práticas curriculares e as relações dentro das escolas, uma vez que o docente foi formado em uma lógica eurocêntrica e boa parte não participou dessas discussões no âmbito da universidade”, explica Cléa Ferreira.
“Precisamos ampliar o nosso repertório, o nosso conhecimento para evidenciar a diversidade, as lógicas diversas. E, há, sim, material disponível. Existe toda uma elaboração teórica pedagógica para essa descolonização. A que acredito é a pedagogia intercultural crítica, que pressupõe não uma substituição, mas uma ampliação que rompa com essa hierarquia, considerando em pé de igualdade e levando para a escola esses outros saberes. A nossa disputa e luta é para desconstruir essa hierarquia, e racismo é isso, é falar de poder”, completa a doutora em Educação.
Fonte: Revista Educação