E a misoginia de mulheres?
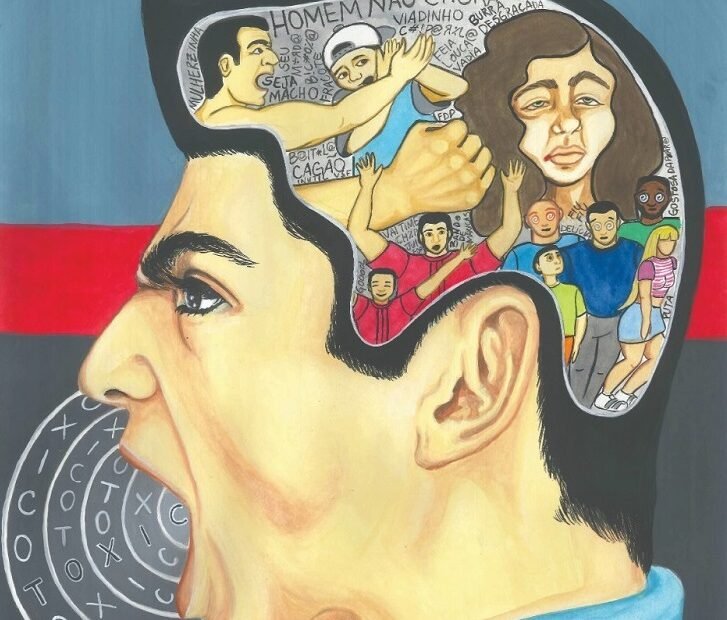
Entre as agentes de justiça, não raro, encontramos pessoas que usam sua condição de mulher como uma arma contra a outra que chega em situação de vulnerabilidade
Parece uma incongruência. Como uma mulher pode nutrir ódio, desprezo, menosprezo, pela exata característica da outra ser mulher? Difícil até de se expressar, me sugere a imagem do cachorrinho rodando, correndo atrás do próprio rabo. Não é simples entender os caminhos que levam à ilusão de pertencer ao front do feminismo quando se oculta o machismo que corre por baixo.
A Misoginia entre mulheres esconde uma disfarçada e, negada, submissão ao homem, no estilo mais clássico. É feita uma aliança com o homem em pauta para engrossar a depreciação da mulher que denuncia.
Nas Varas de Família é abundante a existência de mulheres misóginas. Entre as agentes de Justiça, advogadas, peritas de Psicologia, promotoras, juízas, desembargadoras, não raro, encontramos pessoas que usam sua condição de mulher como uma arma contra a outra que chega em situação de vulnerabilidade. Como se lhe fosse insuportável ser tocada pela identificação com aquela que lhe aparece como frágil. Talvez isso lhe faça lembrar de maus pedaços de sua vida. Todas subiram montanhas de pedra, sofreram preconceitos misóginos, foram preteridas muitas vezes por serem mulheres, não tiveram companheirismo de homens que amaram, enfim, é muito recente aquela imagem que a mulher que vem pedir garantia de Direitos e, por isso, está enfraquecida, carrega em si.

Hoje, vi uma imagem de barbárie que correu o mundo. Apesar de não ter o status de guerra que chancela imagens de horror, o Rio de Janeiro foi palco de sangrenta matança. Não quero abordar aspectos técnicos, sociais, nem mesmo políticos. Aquela imagem de uma rua povoada de cadáveres, lado a lado, quantidade que cobria uma grande extensão de uma praça pública. Eram homens. Só homens. As pessoas foram se aproximando, horrorizadas, impactadas algumas, naturalizadas outras. Eram mulheres, em sua grande maioria. Mães, filhas, irmãs. Uma mulher levava um bebê no colo. Outra andava com um menino de uns quatro ou cinco anos. Aquelas crianças destoavam no cenário macabro. Só explicada suas presenças ali, pelo Apartheid que vigora.
Quantas mães estão chorando a morte do filho? Quantas crianças estão chorando a morte do pai agora? Estou me detendo nesse ponto: a dor da perda. As mães que tanto insistiram para que o filho saísse da atividade que rendia a ele, jovem, poder e dinheiro. As crianças que nem entendiam ainda a dimensão da atividade do pai, mas que não queriam ficar sem o pai. O Apartheid da nossa “cidade maravilhosa” não consegue impedir que as crianças que ficaram órfãs hoje sintam a mesma dor das crianças do outro lado da cidade. Parece que são dores diferentes.
Mas tanto as mães dos jovens, quanto as mães das crianças que ficaram órfãs naquela praça de guerra, vão ser alvos de acusações. “Não criou direito” e “não escolheu direito”, a culpa, muito provavelmente, lhes será atribuída. Poucas mulheres terão a capacidade de sentir empatia pela dor dessa terrível perda.
Como não ser tocada pela outra, como não se deixar inundar pela sororidade das mesmas cólicas menstruais, ou do orgulho da amamentação, para cair na armadilha do machismo misógino que banaliza a violência doméstica como se fosse mimimi, como se fosse culpa da vítima. Quantas vezes ouvimos massacres a uma vítima de violência sexual expressos em frases do tipo “50% da culpa é sua, e 50% é dele” nos casos de estupro. Ou frases condenatórias que apontam para a roupa que estava vestindo, “também com essa roupa”. Argumento que não se sustenta quando a roupa usada pela vítima é um macacãozinho com pezinho, tamanho três meses. Mas o argumento não desaparece.
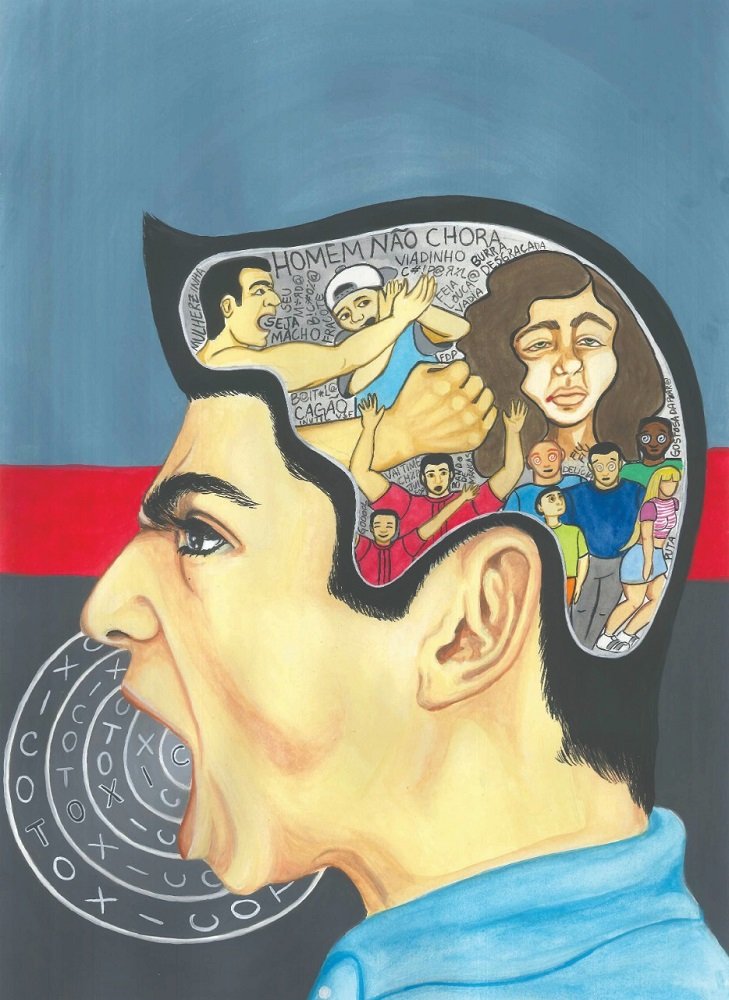
É misógino também afirmar que um agressor foi um mal marido, mas é um ótimo pai. Sem cerimônia pela estupidez contida, como se fosse possível montar uma fenda que separasse o marido do pai, o exemplo a ser imitado pelos filhos e filhas nas duas funções. O pai que bate na mãe rasga seu atestado de pai e resta como genitor. Essa tese tem respaldado decisões judiciais que mantêm a convivência com o genitor agressor, muitas vezes com a exigência de que seja a mãe, com Medida Protetiva de Urgência (MPU), que leve e pegue a criança na casa do genitor. Já escutei de uma desembargadora que essa exigência é importante para que a criança pense que os pais não estão mais brigando. Pense. A mim me parece que não é nada mais do que uma maneira de ensinar a criança a fingir. E a ensinar a criança a ter submissão à figura masculina. Intenção, aliás, que vem embebida em misoginia. Só o ódio pela outra mulher sustenta uma maldade dessas.

O incrível é que isso é visto como sendo uma postura progressista, uma postura que convoca o homem a compartilhar tarefas com a ex-mulher, vista, veladamente, como mulherzinha. O mecanismo de defesa da identificação com o agressor, é visível. O que essas pessoas não percebem é que isso, esse acobertamento, só facilita para que o homem, um agressor, siga praticando violência, inclusive continue praticando estupro de vulnerável, que foi o objeto da denúncia. Agora sob os auspícios da justiça.










Comentários